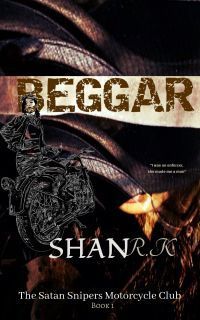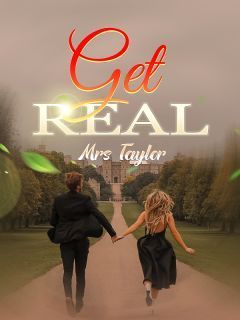O vento tá mais gelado hoje, me faz querer ter alguma coisa mais quente que aquele moletom fininho que eu peguei de um moleque há dois anos. Eu tremo no espacinho entre as lixeiras, ouvindo a gritaria vindo do prédio em que eu tô encostada.
Um ano atrás, era só um prédio de três andares todo fudido. A partir de hoje, vai ser conhecido como uma balada chamada Lazers.
As pessoas gritam e vibram. As risadas altas delas ecoam na minha alma morta.
Eu nunca conheci um dia normal ou ter um prato de comida quente pra comer. Eu nem sei como é tomar banho. As ruas de Washington foram minha casa desde o dia em que eu nasci.
Eu acho que fiquei no hospital algumas vezes, mas não tenho certeza, eu era muito pequena pra lembrar.
Dá pra dizer que minha mãe me amava demais, porque ela não ia me abandonar. Ela preferia que eu nascesse sem uma coberta pra me esquentar do que me abortar ou me dar pra adoção.
Muitas vezes, ela me explicava as coisas, dizia que eu era uma criança do amor, e que meu papai um dia ia nos encontrar e nos levar pra casa dele. Mas ele nunca veio, e minha mãe não parecia muito abalada com isso. Com o passar dos anos, eu aprendi a sobreviver nessas ruas, eu até aprendi a sorrir.
De alguma forma, por pura sorte, minha mãe conseguiu me colocar em uma escola quando eu fiz sete anos.
Eu era a criança suja.
A que tinha piolhos no cabelo.
A criança coitada que sempre pegava o almoço ou as sobras que as outras crianças deixavam no muro durante o intervalo.
No final do primeiro ano, me chamavam de Garota da Rua. Ninguém brincava comigo, mas eu nunca deixei as palavras ou ações delas me incomodarem.
Eu mantinha meus olhos nos meus trabalhos da escola.
Minha mãe me dizia que se eu focasse nas minhas notas e terminasse a escola, eu conseguiria um emprego quando crescesse. Eu lembro de só pensar que, assim, a gente não precisaria ficar nessas ruas.
Abrigos não eram uma opção; eram o pior lugar que a gente podia ir. Uma vez, acabamos naquele da 16th Street.
Nós duas não tínhamos o que comer por dois dias. Estávamos famintas e eu estava ficando fraca. Não tinha outra escolha.
Minha mãe tentou de tudo pra conseguir uma grana, mas ninguém tava generoso,
nem mesmo pra dar algumas sobras pra comer. Foi durante minhas férias de verão.
Enquanto a maioria das crianças comiam até encher a barriga naquelas semanas, eu tinha sorte se conseguia uma refeição por dia. Eu nunca tinha a barriga cheia naquela época, nem imaginava como era, mas eu não reclamava. Eu estava viva, tinha todos os meus dedos das mãos e dos pés.
Sempre que eu reclamava de dor de fome ou de dedos congelados, minha mãe dizia que eu podia estar pior. Eu podia ter nascido sem braços ou pernas.
A sanidade da minha mãe tinha sido questionável de vez em quando, mas ela nunca me deixou pedir esmola, mesmo quando eu pedia. Ela sempre me escondia em algum canto atrás de uma lixeira ou em um beco. Às vezes, nos fins de semana, eu sentava na calçada assistindo os carros passarem.
Mas o dia em que fomos para o abrigo foi um dia ruim. Eu nunca vou esquecer aquele dia. O frio no ar me deu calafrios. Meus pés pequenos tropeçando em si mesmos tentando acompanhar os passos apressados da minha mãe.
A mão dela na minha estava tão apertada, que doía.
Chegamos lá bem na hora em que estavam terminando, e ela nos apressou direto para a fila dos sanduíches grátis. Acho que eu tinha uns oito anos.
Um grupo das pessoas que administravam o abrigo me viu naquele dia. Eles tentaram me tirar da minha mãe, me trancando em algum depósito. Eu estava gritando e chorando.
Eu lembro de como eu mordi a mulher que me puxou. Acho que também arranhei ela, não tenho certeza, faz um tempo.